Este texto exprime uma visão crítica profundamente pessoal sobre Portugal e ao mesmo tempo oferece uma proposta de saída. É um exercício de patriotismo exigente, não de lamento decorativo. Ser patriota, aqui, não é proclamar que se ama Portugal mais do que os outros, é recusar a doença da falta de ambição coletiva e trabalhar, com rigor e risco, por um país que queira realmente transformar-se
Portugal entre a ambiguidade confortável e o fado das migalhas é a minha leitura crítica do país, construída a partir de décadas de observação, experiência militar, diplomática e filosófica sobre a sua posição no sistema internacional, a sua estrutura económica e a sua cultura política. Não pretende ser um libelo de pessimismo, mas um diagnóstico articulado de uma patologia nacional, a aceitação quase instintiva de um lugar subalterno no mundo, disfarçada de prudência, modéstia ou realismo.
Assumo este texto como contributo pessoal para uma possível saída desse impasse. Não se trata de disputar quem gosta mais ou menos de Portugal em retóricas patrioteiras de ocasião, trata-se de olhar o país sem anestesia, de nomear os bloqueios culturais, institucionais e estratégicos que o impedem de converter conhecimento, talento e história em poder de transformação. Este é, precisamente, o ato patriótico, preferir a verdade incómoda à ilusão reconfortante.
Enquanto a Europa atravessa uma profunda crise existencial, Portugal continua como se nada fosse. Prosperamos ou aparentamos prosperar, atraindo ucranianos, russos e outros cidadãos oriundos das zonas fronteiriças da Rússia, desde que disponham de capital suficiente para adquirir mansões de luxo. O único mercado que verdadeiramente prospera é o mercado premium. O país cresce por cima, enquanto permanece frágil por baixo.
Portugal volta, assim, a assumir-se como lugar de exílio. Já não de monarcas depostos, mas de magnatas e oligarcas. Beneficiamos da distância geográfica em relação à Rússia e de uma indefinição estratégica quanto ao lado em que nos colocamos. Vamos dando umas no cravo e outras na ferradura, tentando preservar a ambiguidade do velho tripé estratégico de que tanto nos orgulhámos. Mas essa ambiguidade é, na prática, uma tentativa permanente de quadratura do círculo, agradar simultaneamente a gregos e troianos sem nunca assumir plenamente o risco de escolher.
Esta posição confortável é defensável, mas dificilmente sustentável se a Casa Branca mantiver políticas de confrontação aberta com os aliados europeus. Ainda assim, tudo indica que persistiremos na neutralidade oportunista, a posição ideal para recolher migalhas de todos, evitando compromissos firmes com quem quer que seja.
Essa atitude é frequentemente justificada pela nossa condição estrutural de país pobre e pela existência de uma vasta diáspora. Uma diáspora espalhada pelo mundo, mas raramente posicionada em lugares de verdadeira influência política, ao contrário de outras comunidades que souberam organizar-se e exercer lobby. Os portugueses, em regra, ocupam posições subalternas.
A nova emigração pouco altera este quadro. Os novos emigrantes raramente se fixam. Circulam, não criam raízes, não constroem comunidades fechadas, comunidades com as quais, aliás, já não se identificam. Trata-se de uma emigração fluida, desancorada, com diferentes formas de integração. São, em certo sentido, nómadas digitais, alguns inseridos em grandes empresas de consultoria, transmutando entre capitais do mundo, sem peso político, sem densidade coletiva, sem capacidade de influência duradoura.
Também a nossa relação com as ex-colónias permanece marcada pela desigualdade. Transportamos uma culpa histórica difusa, como se fôssemos responsáveis, à luz dos valores do presente, por atos cometidos noutros tempos e noutros contextos. Somos julgados de forma anacrónica por povos que colonizámos, e aceitamos esse julgamento com uma docilidade que nos fragiliza.
Queremos cooperar e cooperamos. Tudo damos para isso. Mas, ao contrário de outros países, a nossa cooperação parece ter um único sentido, oferece-se sem estratégia, sem contrapartidas, sem retorno político, económico ou cultural. Uma cooperação quase penitencial, mais próxima da expiação do que da parceria. Cinquenta anos depois do fim do império, continuamos a carregar uma culpa que não sabemos bem de onde vem, nem quando deveria ter sido resolvida.
Este sentimento de acomodação e de subserviência, aliado à culpa que assumimos como nossa, fragiliza as nossas relações estratégicas. A isso soma-se um traço cultural persistente, bem simbolizado pelo espírito do Oliveira da Figueira, do Tintin, o empresário chico esperto, matreiro, que vende tudo a metade do dobro e se dá por satisfeito.
Contentamo-nos com migalhas nos raros momentos em que a geografia nos devolve alguma centralidade, quando somos porto de refúgio efémero entre crises alheias. Vivemos dessa intermitência estratégica, confundindo sobrevivência com visão e oportunidade com destino.
Temos quadros excelentes. Algumas faculdades de economia figuram nos tops internacionais. E, no entanto, não conseguimos dar a volta à nossa economia, nem alavancar as empresas para que deixem de ser microempresas confinadas a nichos estreitos. Há um medo estrutural de arriscar, de sair do conforto da pequenez endémica. Ouvimos sempre a voz dos Velhos do Restelo, prudentes até à paralisia, e mantemos uma submissão quase instintiva.
Somos permanentemente agradecidos a todas as excelências do mundo, num estilo matreiro, na esperança de recolher mais algumas migalhas. Confundimos cautela com virtude, gestão do pouco com estratégia, e sobrevivência com ambição.
Ontologicamente, o fado nacional que aqui se descreve não é apenas um traço cultural ou um estilo musical, é uma forma de ser-no-mundo, uma disposição estrutural da consciência coletiva. É um modo de existência em que o país se percebe a si próprio como condenado a ser menos do que poderia ser, oscilando entre a nostalgia do passado e a resignação perante o futuro.
Este fado cristaliza o erro como destino. Em vez de aprender com as crises, repete-as. Em vez de ver a contingência histórica como campo de escolha, interpreta-a como fatalidade. Não há ciclos de superação, como no karma oriental, mas um enrodilhar-se permanente numa narrativa de limitação. Aprende-se a viver com pouco, a desejar pouco e a esperar pouco. A esperança é administrada em microdoses, apenas suficientes para evitar o colapso, nunca para provocar a rutura criadora.
Este fado não se confunde com prudência nem com consciência histórica. É uma forma sofisticada de desistência. Um lamento permanente, muitas vezes estetizado, que transforma a fragilidade em virtude, a pobreza em identidade e a falta de ambição em sinal de maturidade. Sofre-se, mas sofre-se com dignidade. Perde-se, mas com estilo.
O lamento ocupa um lugar central. Não como grito transformador, mas como murmúrio contínuo. Queixamo-nos do mundo, da geografia, da História, da Europa, dos grandes e dos poderosos, mas raramente de nós próprios enquanto sujeitos políticos. O lamento substitui a ação, a queixa ocupa o lugar da decisão.
Este fado nacional funciona como um eficaz mecanismo de gestão da desesperança. Canaliza o descontentamento para o simbólico, futebol, música, saudade, herói ocasional, impedindo que se transforme em exigência coletiva ou em projeto político estruturado. A desesperança, assim domesticada, torna-se socialmente aceitável.
No fundo, o fado nacional é a nossa forma de neutralidade interior. Tal como na política externa, evita escolhas claras, riscos reais e conflitos abertos. Prefere a adaptação à afirmação, o lamento à rutura, a sobrevivência à ambição.
Enquanto não formos capazes de distinguir entre destino e escolha, entre memória e paralisia, entre prudência e medo, continuaremos a chamar fado àquilo que é, afinal, uma decisão coletiva não assumida.
A Doença da Falta de Ambição Coletiva
Com esta atitude, Portugal nunca conseguirá sair da cepa torta. Um país que vive de ambiguidade, de prudência excessiva e de gestão simbólica da desesperança não cria condições para o crescimento estrutural da sua economia. Permanece num patamar onde a economia não cresce o suficiente para absorver os seus melhores quadros, e mais grave ainda, onde nem sequer os deseja.
Ao contrário do que sucede noutros países, as empresas portuguesas não procuram doutorados, nem valorizam o conhecimento avançado. Não porque ele seja inútil, mas porque o tecido empresarial é maioritariamente composto por microempresas, sem escala, sem ambição e sem estratégia de evolução tecnológica. Empresas que sobrevivem, mas não se transformam, que resistem, mas não inovam.
A ausência de procura por qualificação não é um acidente. Um país de empresas pequenas não precisa de ciência, apenas de mão de obra adaptável e barata. A aposta na tecnologia, na investigação e no valor acrescentado exigiria risco, investimento e visão de longo prazo, precisamente aquilo que o fado nacional desencoraja.
A burocracia excessiva impede o acesso pleno aos fundos comunitários e ao POR, tornando impossível utilizar esses recursos na sua totalidade. O problema não é a corrupção, mas sim a complexidade interminável dos procedimentos, que obriga a pagar chefias em todos os níveis para que um dossier avance do fundo da burocracia para despacho. Esta estrutura alimenta a inveja, travando ainda mais a iniciativa e criando um círculo vicioso de desconfiança e contenção.
Assim, formamos quadros altamente qualificados para os exportar. Investimos em universidades para alimentar economias alheias. Criamos conhecimento que não encontra ecossistema para se fixar. O resultado é uma economia de vão de escada, satisfeita com margens curtas, mercados locais e sobrevivência assistida.
Portugal tem exemplos próximos que mostram que é possível fazer diferente. A Irlanda soube transformar a sua diáspora em recurso estratégico, canalizando investimento, conhecimento e oportunidades. Israel é paradigmático. Um país pequeno, metade desértico, sem recursos naturais convencionais, cercado por hostilidades permanentes, mas que converteu a sua massa cinzenta em ativo estratégico, criando ecossistemas de inovação, fixando talento e transformando vulnerabilidades geopolíticas em superioridade tecnológica.
O patriotismo exigente que aqui defendo é querer mais do que sobrevivência digna, é recusar a economia de vão de escada como horizonte, é lutar para que os melhores quadros possam ficar e transformar o país. É integrar conhecimento, tecnologia, criatividade e diáspora num projeto estruturado, em vez de dispersá-los em trajetórias individuais sem retorno coletivo. É trabalhar para substituir o fado da resignação pelo fado da coragem.
Portugal dispõe de quadros de excelência, universidades competentes, diagnósticos claros e exemplos internacionais próximos que demonstram que a pequenez não é sinónimo de impotência. Falta apenas a decisão coletiva de ousar, arriscar e transformar. Só assim poderemos fazer da nossa pequenez não um limite, mas um ponto de partida para um país que escolhe o seu destino em vez de o esperar.
Nuno Pereira da Silva
Coronel na Reserva








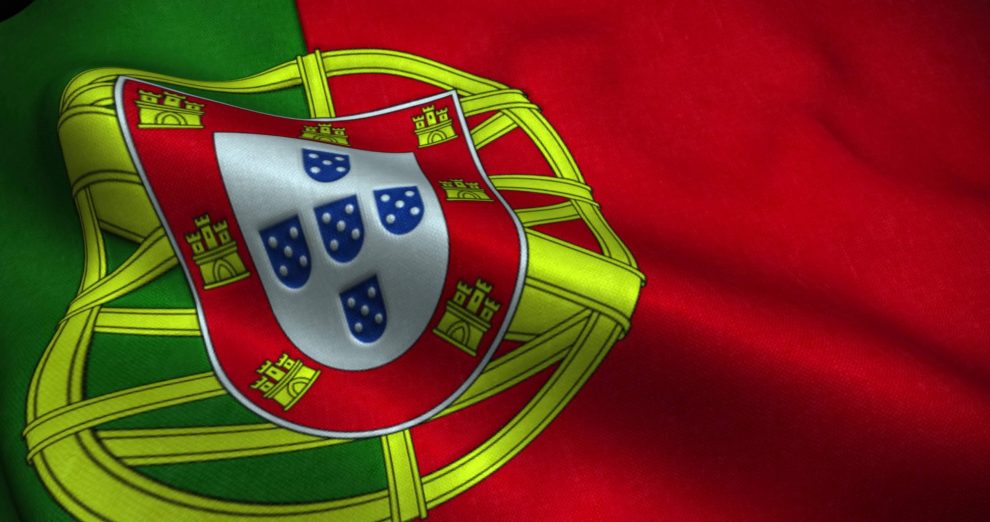



Adicionar comentário